.
.
Muito justo. Pode ter escrito alguns livros discutíveis nos últimos anos, mas Os filhotes, A cidade e os cachorros e Tia Julia e o escrevinhador merecem demais. No mês passado, em Madri, fui entrevistá-lo.
Llosa mora no terceiro andar de um prédio no centro da cidade. Está com 74 anos. Acorda cedo, caminha todos os dias, faz musculação e exercícios. É da turma dos escritores bombados, tipo Rubem Fonseca e Bioy Casares. Llosa vive com a mulher e, nas estantes, mesas, emoldurando a imensa biblioteca, ficam dezenas de miniaturas de hipopótamos. Conversou comigo enquanto a neta, Isabela, brincava de montar cubos coloridos no chão da sala.
Falou sobre como Paris deixou de ser a capital cultural do mundo, sobre sua experiência no sertão da Bahia e hipopótamos. No fim, me recomendou um lugar para comer ovo frito com batatas.
.

.
Quando seu pai o colocou no Colégio Militar Leoncio Prado, em Lima, 1950, ele esperava que você deixasse de lado o gosto pelos livros. Mas aconteceu o contrário, não?
Nunca li tanto quanto nessa época. A solidão do internato, sobretudo nos fins de semana, teria sido insuportável sem a leitura. Eu tinha 14 anos e ficar internado me causava imensa claustrofobia. A leitura era uma liberação, uma maneira de escapar. Dessa época, lembro de ter lido
Os miseráveis, que foi uma experiência muito importante. A lembrança de Victor Hugo está inseparavelmente ligada aos meus dois anos no colégio militar porque, sem dúvida, ele foi, com Alexandre Dumas, o melhor amigo que tive lá dentro. Li toda a série de Dumas,
Os três mosqueteiros, tudo. Li muitos romances de aventura e romances franceses. Meu pai me colocou no colégio militar para que os militares me curassem daquilo que ele chamava de enfermidade literária. Mas acabei lendo ainda mais, e ganhei a experiência que me permitiu escrever meu primeiro romance,
A cidade e os cachorros. Apesar de não ser autobiográfico, este livro foi feito a partir de muitas imagens de meus dois anos no colégio militar. Também escrevi muito no colégio militar. Lá, era um escritor profissional, escrevia cartas de amor e historinhas pornográficas para meus colegas. Trocava os textos por cigarro e às vezes algum dinheiro.
Dois de seus primeiros livros, Os filhotes e A cidade e os cachorros, tratam da passagem da infância para a vida adulta. Em ambos, esta experiência é marcada por certa violência – o dia-a-dia do colégio militar em A cidade e os cachorros, o acidente que sofre o protagonista de Os filhotes. A transição para a vida adulta é sempre uma experiência de trauma?Minha entrada no colégio militar foi uma experiência traumática. Ali se vivia uma violência que eu desconhecia. Eu morava num bairro protegido, Miraflores; os meninos de Miraflores não conheciam a violência brutal de outros setores do país. No colégio militar chegavam meninos de todas as classes sociais, era um microcosmo da sociedade peruana. Lá, meninos ricos, pobres e de classe média viviam juntos; brancos, cholos, índios, negros, chineses. O clima era tenso. Havia também o machismo militar que estimulava muito um certo aspecto viril, machista. Esse clima de violência é o que se reflete em
A cidade e os cachorros, uma experiência me fez conhecer melhor a realidade peruana. Quanto a
Os filhotes, li num jornal que, num povoado da serra, um cão havia mordido e castrado um menino. Lembro que a imagem me impressionou, mas lembro, sobretudo, que acabei pensando que a ferida do menino, ao contrário de outras feridas, em lugar de fechar, com o tempo se abriria ainda mais. Então pensei em escrever uma história na qual um personagem vivesse essa terrível experiência, e investigar o significado disso com o passar dos anos.
No fim dos anos 50, quando você foi a Paris, a cidade era a capital cultural do mundo, o lugar para onde iam aqueles que desejavam ser escritores. Paris continua sendo esta cidade?
Não, isso mudou muito. Hoje, há outros centros culturais. Os jovens vão a Nova York, Barcelona, Madri. Também é muito mais difícil se instalar na Europa, há uma paranoia em relação a imigração. Muitos obstáculos. Quando eu era jovem, Paris se apresentava como a capital da cultura, das artes. Em todo o mundo, jovens que tinham vocação literária ou artística sonhavam ir a Paris. Continua sendo uma cidade bela e importante do ponto de vista cultural, mas não é mais o centro magnético que costumava ser. Hoje, há lugares muito mais atraentes que Paris: Londres, Nova York, Berlim.
No verão de 1959, quando chegou a Paris, a primeira coisa que fez foi, numa livraria do Quartier Latin, comprar um exemplar de Madame Bovary. Passou a noite trancado no quarto, enfeitiçado pelo livro. Acredita que se tivesse comprado algum outro romance, sua história como escritor teria sido diferente?
Certamente. Essa foi uma experiência fundamental para mim. Não só porque os romances de Flaubert me deslumbraram, mas porque me ajudaram a me tornar escritor. A correspondência de Flaubert talvez seja a melhor iniciação que um escritor pode ter. Flaubert foi um escritor que trabalhou seu talento. Não tinha um talento natural. Ele se impôs um sistema de rigor, de exigência, de autocrítica e de imenso trabalho, e isso fez brotar o talento onde não havia. Nesse sentido, Flaubert foi um mestre, me ensinou o tipo de escritor que eu queria ser.
Há 15 anos, vive neste apartamento, em Madri. O que costuma fazer, como é o seu dia-a-dia na cidade?
Tenho uma rotina muito disciplinada. Acordo cedo, perto das seis, caminho uma hora (há um circuito muito bonito, perto da Plaza de Oriente), faço musculação, exercícios. Esse momento é quando preparo o trabalho do dia, crio o clima para começar. Depois, leio os jornais. Sou um grande leitor de jornais, gosto de saber de tudo o que acontece. Então começo a trabalhar. Trabalho até às 14h. À tarde, muitas vezes, vou a alguma biblioteca ou café. As horas mais criativas são sempre as da manhã. À noite, não trabalho, vou ao cinema, ao teatro, a concertos. De segunda a sábado, trabalho no livro que estiver escrevendo, aos domingos escrevo artigos. Viajo muito também, e quando viajo não interrompo esta rotina. Trabalho onde estiver. Há pouco estive de férias com a família, em Mallorca, ficamos uma semana, e trabalhei sempre, da mesma forma. Isso não muda nunca.
Você já morou em Lima, Paris, Londres, Barcelona. Depois de tantos anos na Europa,o seu olhar sobre a América Latina se modificou? Qual a importância de reelaborar um país, uma cultura, em outro país?Para mim, isso sempre foi fundamental. Porque eu vivi mais tempo fora do Peru do que no Peru. Isso me deu uma perspectiva, uma visão mais, creio, objetiva; me fez conhecer melhor meu próprio país. Conhecemos melhor nosso país quando viajamos ou saímos dele. Quando saímos conseguimos enxergar melhor as distorções que, muitas vezes, o patriotismo produz. É possível julgar melhor seu país quando se conhece outros países. Posso dizer que descobri a América Latina na Europa. Eu não me sentia latinoamericano enquanto vivia no Peru. Na Europa descobri que era um latinoamericano, que participava de uma comunidade, que tinha uma série de denominadores comuns, tradições, problemas, uma missão cultural. Sem Flaubert, Faulkner ou Tolstoi, sem Victor Hugo, nunca teria sido o escritor que sou. Ao mesmo tempo, a experiência de viajar também foi imprescindível. Viajar me salvou de uma certa visão estreita, nacionalista e provinciana.
E o Brasil? Você esteve no país muitas vezes. Qual delas foi a mais marcante?
Sem dúvida foi uma experiência marcante conhecer os lugares onde se passa
Os sertões, de Euclides da Cunha. Escrevi um livro,
A guerra do fim do mundo, sobre a Guerra de Canudos. Em 1979, durante as pesquisas para este livro, estive nos vinte e cinco povoados do interior da Bahia e de Sergipe por onde Antonio Conselheiro teria passado, ouvindo os filhos e os netos daqueles que o haviam escutado. Talvez uma das maiores emoções que tive na vida foi estar no lugar onde ficava Canudos. E guardo sempre a lembrança de grandes amigos brasileiros, Jorge Amado, Rubem Fonseca. E João Guimarães Rosa, um dos grandes autores latinoamericanosde, de quem sempre fui admirador.
Grande Sertão: veredas é uma obra prima, infelizmente um livro muito mal traduzido para o espanhol.
Sua primeira mulher, Julia Urquidi, que inspirou Tia Julia e o escrevinhador, morreu em março. Você se casou com ela aos 19 anos, apesar da oposição familiar (ela era 10 anos mais velha, irmã da mulher de seu tio materno). Qual a importância dela no seu início como escritor?Eu me casei com Julia muito jovem. Ficamos casados oito anos. Ela me ajudou muito, sobretudo nos primeiros anos, quando era especialmente difícil pensar em ser escritor. Me lembro dela com muito carinho. Há muitos anos não nos víamos, acho que depois que nos separamos nos vimos uma ou duas vezes. Uma época da minha vida ficou profundamente marcada por essa experiência.
Gostaria que comentasse uma passagem do texto que escreveu para a série de livros organizada por Franco Moretti sobre o romance, quando diz que “o mundo sem romances teria como traço principal o conformismo”.Creio que o romance foi sempre um testemunho rebelde, de insubmissão. Em todas as épocas, os romances flagraram nossas carências, tudo aquilo que a realidade não nos pode dar e que de alguma maneira desejamos. Começamos a inventar porque o mundo não nos parece suficiente. O romance se situa justamente nesta compensação que o ser humano busca quando entende que a realidade não o satisfaz completamente. Por esse motivo, o romance causou sempre desconfiança nos governos, nas instituições que aspiram controlar a vida. As religiões e os regimes autoritários nunca foram simpáticos ao romance. E penso que têm razão: o romance é mesmo um gênero perigoso, porque provoca a imaginação, os desejos, e nos faz sentir que a vida não é o bastante, que ela não consegue aplacar todos os nossos apetites e sonhos. O romance tem a ver com esse espírito rebelde. A invenção de outro mundo, de outra realidade, onde podemos nos refugiar e viver. Escapar através da fantasia. Acredito que essa é a origem de toda ficção.
E como o livro digital pode contribuir para a continuidade desse gênero?
O livro digital vai crescer, se impor. Não tem volta. Mas não acredito que o livro de papel vá desaparecer. Vai seguir existindo, um pouco à margem, mas tudo bem. Haverá uma literatura de entretenimento, para o grande público, que deverá se desenvolver com o livro digital. E haverá uma outra, mais rigorosa, mais exigente, experimental, que ficará com o livro de papel. Mas é apenas uma suposição, ninguém sabe o que realmente vai acontecer.
Seu novo romance, O sonho do celta, é baseado na vida de um diplomata irlandês, Roger Casement (1864-1916). O que chamou sua atenção neste personagem?Descobri Casement ao ler uma biografia de Joseph Conrad. Casement esteve na África e na Amazônia brasileira e peruana. Foi cônsul britânico no Congo belga e dedicou duas décadas da sua vida a denunciar as atrocidades do regime de Leopoldo II naquele país. Denunciou também as terríveis condições vividas pelos indígenas na Amazônia, o que influenciou de maneira decisiva a opinião pública da Europa e dos EUA. Foi importante para a independência da Irlanda, no fim do seculo XIX. Casement levou uma vida aventureira, foi grande amigo de Conrad. Acompanhou Conrad em sua jornada africana. Conrad escreveu
Coração das trevas em grande parte graças a ele.
Falando em África, gostei muito da sua coleção de hipopótamos.
Tudo começou quando uma peça que escrevi,
Kathie e o hipopótamo, estreou na Inglaterra e os atores me presentearam com miniaturas do bicho. Tenho muito carinho pelos hipopótamos, trata-se de um animal dócil, com o paladar delicado e uma incrível propensão ao amor. Suas principais ocupações são tomar banho, chafurdar na lama e fazer amor – eles podem passar mais de 12 horas copulando. São feios, dão impressão de brutalidade, mas são delicados. Conseguiram o que os hippies jamais conseguiram, levar a cabo a máxima “paz e amor”. Gostaria de fazer amor como os hipopótamos.
.
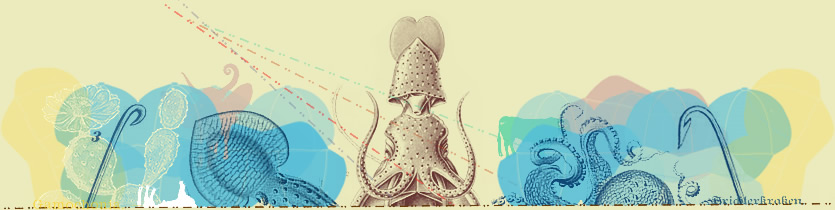
 .
.  .
. .
.
 .
.


 .
.



