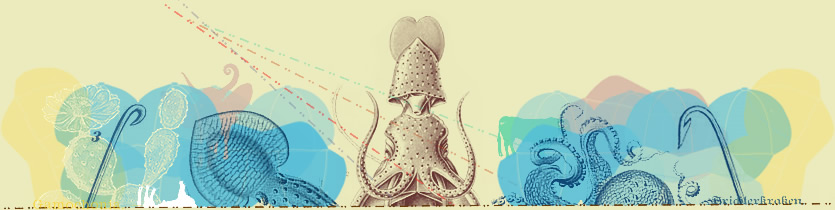.
Texto para o Outlook do fim de semana.
.
Todos nós, em maior ou menor grau, experimentamos (e alimentamos) aquilo que pode ser chamado de “a vida secreta”. O termo se refere aqui a coisas ínfimas que perderiam a graça e/ou soariam ridículas e sem sentido se fossem contadas (porque as palavras as diminuem).
Exemplos:
No caminho para o trabalho, seguir por trajeto alternativo (mais longo) só para passar sob uma marquise que, por algum motivo, achamos bonita;
Idas solitárias à papelaria para escolha e compra de canetas;
Tentativa de pisar sempre na parte branca do segundo degrau da entrada do prédio;
Choro em posição fetal durante o banho (água fria);
Passar as compras única e exclusivamente no caixa 8, mesmo com fila maior, porque é o da atendente ruiva e de covinhas;
Etc.
Uma das características da vida secreta, talvez a mais marcante, é o não-utilitarismo de seus atos. E um dos seus exemplos mais bem-acabados talvez esteja no diário argentino de Witold Gombrovicz.
O escritor polonês, que por muitos anos viveu em Buenos Aires, conta que certa vez entrou no banheiro de um café da Calle Callao e viu as paredes cobertas de escritos e desenhos. Depois de algum tempo fechado ali, sozinho, “em uma espécie de intimidade”, decidiu contribuir com o work in progress local; sacou do bolso um lápis, molhou a ponta com saliva e rabiscou algo, “na parte de cima, para que fosse mais difícil apagar, algo completamente idiota”.
Então guardou o lápis. Abriu a porta e saiu. Atravessou o café e se misturou à multidão da rua. “Aquilo ficou lá, escrito”, conta o autor de Ferdydurke. “E desde então”, diz, “vivo com a consciência de que o que escrevi está lá.”
Essa história da vida secreta de Gombrovicz (lembrança frequente de que, por alguma razão, escreveu algo idiota na parede daquele banheiro) me veio à cabeça agora quando estampou os jornais a notícia de que durante escavações no Marco Zero, onde ficava o World Trade Center, em Nova York, operários encontraram a carcaça de uma embarcação de 9,75 metros de comprimento. Segundo arqueólogos, o navio pode ter afundado no século dezoito. Uma âncora de 45 quilos também foi encontrada no local.
Ou seja, do início dos anos 70, quando as torres ficaram prontas, até 2001, quando foram destruídas nos ataques de 11 de setembro, o World Trade Center manteve no seu subsolo um barco.
Se os lugares (praças, parques, prédios) tivessem vidas secretas – e eu aposto que sim –, essa sem dúvida seria uma das mais perturbadoras. Um barco no porão. Um prédio tão grande e asseado, com empresas e escritórios. Um lugar em que tudo converge para a eficiência. E um barco, velho e imundo, enterrado no porão. Contado assim, as pessoas olhariam de lado, disfarçando. Ninguém entenderia.
.
Texto para o Outlook do fim de semana.
.
Todos nós, em maior ou menor grau, experimentamos (e alimentamos) aquilo que pode ser chamado de “a vida secreta”. O termo se refere aqui a coisas ínfimas que perderiam a graça e/ou soariam ridículas e sem sentido se fossem contadas (porque as palavras as diminuem).
Exemplos:
No caminho para o trabalho, seguir por trajeto alternativo (mais longo) só para passar sob uma marquise que, por algum motivo, achamos bonita;
Idas solitárias à papelaria para escolha e compra de canetas;
Tentativa de pisar sempre na parte branca do segundo degrau da entrada do prédio;
Choro em posição fetal durante o banho (água fria);
Passar as compras única e exclusivamente no caixa 8, mesmo com fila maior, porque é o da atendente ruiva e de covinhas;
Etc.
Uma das características da vida secreta, talvez a mais marcante, é o não-utilitarismo de seus atos. E um dos seus exemplos mais bem-acabados talvez esteja no diário argentino de Witold Gombrovicz.
O escritor polonês, que por muitos anos viveu em Buenos Aires, conta que certa vez entrou no banheiro de um café da Calle Callao e viu as paredes cobertas de escritos e desenhos. Depois de algum tempo fechado ali, sozinho, “em uma espécie de intimidade”, decidiu contribuir com o work in progress local; sacou do bolso um lápis, molhou a ponta com saliva e rabiscou algo, “na parte de cima, para que fosse mais difícil apagar, algo completamente idiota”.
Então guardou o lápis. Abriu a porta e saiu. Atravessou o café e se misturou à multidão da rua. “Aquilo ficou lá, escrito”, conta o autor de Ferdydurke. “E desde então”, diz, “vivo com a consciência de que o que escrevi está lá.”
Essa história da vida secreta de Gombrovicz (lembrança frequente de que, por alguma razão, escreveu algo idiota na parede daquele banheiro) me veio à cabeça agora quando estampou os jornais a notícia de que durante escavações no Marco Zero, onde ficava o World Trade Center, em Nova York, operários encontraram a carcaça de uma embarcação de 9,75 metros de comprimento. Segundo arqueólogos, o navio pode ter afundado no século dezoito. Uma âncora de 45 quilos também foi encontrada no local.
Ou seja, do início dos anos 70, quando as torres ficaram prontas, até 2001, quando foram destruídas nos ataques de 11 de setembro, o World Trade Center manteve no seu subsolo um barco.
Se os lugares (praças, parques, prédios) tivessem vidas secretas – e eu aposto que sim –, essa sem dúvida seria uma das mais perturbadoras. Um barco no porão. Um prédio tão grande e asseado, com empresas e escritórios. Um lugar em que tudo converge para a eficiência. E um barco, velho e imundo, enterrado no porão. Contado assim, as pessoas olhariam de lado, disfarçando. Ninguém entenderia.
.