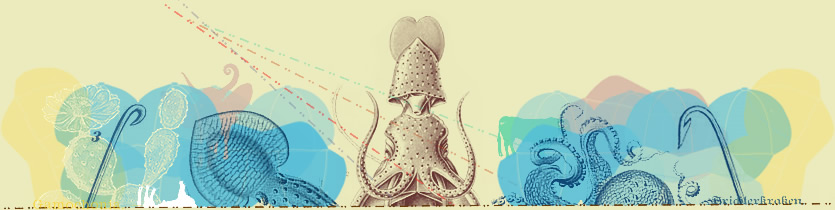.
Texto novo no blog da Companhia das Letras.
.
Li Seis problemas para Dom Isidro Parodi na biblioteca do Centro Cultural São Paulo. Eu tinha dezessete anos e devia, na verdade, estar lendo a Farsa de Inês Pereira para o vestibular. Desde então, o Centro Cultural ganhou as feições do livro que Borges e Bioy Casares escreveram juntos em 1942, e sempre que penso nas rampas, vãos e poltronas da tal biblioteca é o detetive Parodi que me vem à cabeça.
Costumo achar que os livros se mesclam aos lugares onde são lidos, às circunstâncias da leitura. Em A vida descalço, Alan Pauls fala de uma “caprichosa aliança entre Cortázar e a praia”. Final de jogo, Todos os fogos o fogo e Os prêmios serão para sempre o litoral de Villa Gesell, ao sul de Buenos Aires, onde por mais de quinze anos Pauls passou suas férias de verão. De shorts e havaianas, “com a pele branca de sal e os ombros em processo avançado de descascamento”, Pauls lê contos como “A ilha ao meio-dia” e “O outro céu”, e os mistura ao balneário, ao calor, à comunidade hippie-mochileira, suas barracas, violões e fogueiras noturnas.
Para Alejandro Zambra, o inverno de 1999 é A montanha mágica, quando vivia a vida do desempregado e levantava cedo para deixar currículos pela cidade. Ia com pouca fé, mas aliviado pela iminência de logo estar de volta, entrar sob as cobertas e retomar o romance de Mann. “Não tinha febre, mas por solidariedade com a ficção, e também por hipocondria, a cada cinco páginas media minha temperatura e até desconfiava do termômetro, pois queria adoecer tanto quanto os personagens do livro”, conta. Durante a leitura, Zambra fazia uma única pausa, para preparar o que chamava de “talharim eterno”, que comia na cama, sempre com o livro aberto. “Por isso”, diz, “meu exemplar d’A montanha mágica tem marcas de molho de tomate.”
No mês passado, em Buenos Aires, li os Diarios, de Alejandra Pizarnik, num café chamado Rivas, em San Telmo. Em 2005, numa outra viagem à capital argentina, li o Diario argentino, de Witold Gombrowicz, no hostel infecto onde estava hospedado, na Calle Bartolomé Mitre, perto do Congresso. Esses diários foram escritos praticamente na mesma época, entre 1954-71 (Pizarnik) e 1953-69 (Gombrowicz), e ambos marcam uma mudança de sensibilidade. O diário, antes algo que se mantinha, até segunda ordem, restrito à dimensão do privado, passa a ser concebido para publicação.
Ou seja: enquanto Kafka relatava para si, e somente para si, suas noites de raios e trovões, Gombrowicz sabia que seu diário seria lido, escrevia para isso. A espontaneidade passa a ser um efeito, fruto de operações, procedimentos. A partir do autor polonês, o diário — ou a correspondência (basta ver Querida família, as cartas que Manuel Puig enviou da Europa a seus pais, entre 1956 e 62) — se torna um gênero, artificial, construído minuciosamente pelo autor, não raro ele também leitor de diários.
E não se trata mais de algo secundário, periférico, cujo interesse vai ser despertado a posteriori, o diário como parte do espólio do autor etc. Gombrowicz vai publicando trechos do seu diário em vida, antes mesmo de ter uma obra consolidada — seu diário é, na verdade, fruto de sua colaboração com uma revista mensal dos imigrantes polacos em Paris, Kultura. Em 1957, sai o primeiro tomo do diário, em livro, com escritos de 1953-56. Nessa época, Gombrowicz ainda não havia publicado alguns de seus principais romances, como Pornografia e Cosmos. E é conhecida a apreciação de Ricardo Piglia que diz ser o diário a principal obra de Gombrowicz.
O autor polonês advertia que um escritor tinha que demonstrar engenho em todos os níveis da escrita: isto é, deveria se expressar não só num poema ou num drama, mas também na prosa vulgar, num artigo ou no diário. A ideia ecoa uma outra, de Walter Benjamin, que no início de Rua de mão única afirma que o “exercício da inteligência” já não podia se dar apenas “dentro de molduras” tradicionais e devia cultivar as formas modestas, como “folhas volantes, brochuras, artigos de jornal e cartazes”, mais pertinentes e efetivas que “o pretensioso gesto universal do livro”. Na introdução ao Diario argentino, como que para apaziguar os ânimos de críticos que se perguntavam “mas quem diabos vai se interessar por isso, onde estão a política e os temas gerais?”, Gombrowicz escreve: “meu diário quer ser o contrário da literatura comprometida, quer ser literatura privada; me parece que esse tipo de literatura é necessária agora, seria extremamente chato se todos repetissem sempre o mesmo, numa mesma voz”.
Pizarnik também antecipou diversos fragmentos do seu diário em revistas e jornais, e corrigiu-o e reescreveu-o incessantemente. “Para ela, trabalhar no diário era tão importante quanto trabalhar em seus poemas”, diz Ana Becciu, organizadora do diário da escritora. “Desde jovem, Pizarnik foi voraz leitora de diários, especialmente os de Katherine Mansfield, Virginia Woolf e Kafka.” A versão espanhola do diário de Kafka, escrito entre 1910-23, foi publicada na Argentina em 1953. O exemplar de Pizarnik leva escrito na primeira página o ano em que ela o adquiriu: 1955. “Está largamente sublinhado, e anotado de cabo a rabo. Era seu livro de cabeceira”, fala.
Dá para dizer que Gombrowicz e Pizarnik são os avós dos blogs pessoais — que, aliás, já morreram também. Em alguns pontos, Gombrowicz problematiza a questão da encenação pública do eu nas próprias páginas do diário: “Escrevo esse diário sem vontade. Sua insinceridade sincera me cansa. Para quem escrevo? Se é para mim mesmo, por que o publico? Se é para o leitor, por que falo como se falasse comigo mesmo?”. Mas os melhores momentos do livro, aqueles em que o polonês mais brilha como narrador, são episódios simples, nada metalinguísticos (metalinguagem que, hoje, soa um pouco datada), como quando vai ao campo e não para de suar, ou quando secretamente escreve na parede do banheiro de um bar da Calle Callao.
São trechos pouco “literários”. E que fazem pensar que tanto Gombrowicz quanto Pizarnik conseguiram colocar em jogo uma espécie de estilo da necessidade, tão próprio dos diários e das cartas, um estilo vivo, que parece estar num degrau anterior à literatura com L maiúsculo. Tem a ver com isso o que o personagem de Borges e Bioy diz sobre um crítico/jornalista em Seis problemas para Dom Isidro Parodi: “Li os artiguinhos do Molinari. O rapaz é habilidoso com a pena, mas tanta literatura e tanto retrato acabam enjoando. Por que não me conta as coisas do seu jeito, sem nenhuma arte? Eu gosto que me falem claramente”. Depois de ler os diários, a impressão é que uma boa maneira de se converter em escritor é essa: não querer ser escritor. Contar as coisas sem “arte”; falar claramente (mas para isso, claro, é preciso um tanto de arte). E que talvez o lugar e as circunstâncias em que lemos um livro (a intimidade) possam guardar os segredos daquela literatura mais viva, urgente e real — Cortázar na praia; Thomas Mann sujo de molho de tomate na cama.
.
Texto novo no blog da Companhia das Letras.
.
Li Seis problemas para Dom Isidro Parodi na biblioteca do Centro Cultural São Paulo. Eu tinha dezessete anos e devia, na verdade, estar lendo a Farsa de Inês Pereira para o vestibular. Desde então, o Centro Cultural ganhou as feições do livro que Borges e Bioy Casares escreveram juntos em 1942, e sempre que penso nas rampas, vãos e poltronas da tal biblioteca é o detetive Parodi que me vem à cabeça.
Costumo achar que os livros se mesclam aos lugares onde são lidos, às circunstâncias da leitura. Em A vida descalço, Alan Pauls fala de uma “caprichosa aliança entre Cortázar e a praia”. Final de jogo, Todos os fogos o fogo e Os prêmios serão para sempre o litoral de Villa Gesell, ao sul de Buenos Aires, onde por mais de quinze anos Pauls passou suas férias de verão. De shorts e havaianas, “com a pele branca de sal e os ombros em processo avançado de descascamento”, Pauls lê contos como “A ilha ao meio-dia” e “O outro céu”, e os mistura ao balneário, ao calor, à comunidade hippie-mochileira, suas barracas, violões e fogueiras noturnas.
Para Alejandro Zambra, o inverno de 1999 é A montanha mágica, quando vivia a vida do desempregado e levantava cedo para deixar currículos pela cidade. Ia com pouca fé, mas aliviado pela iminência de logo estar de volta, entrar sob as cobertas e retomar o romance de Mann. “Não tinha febre, mas por solidariedade com a ficção, e também por hipocondria, a cada cinco páginas media minha temperatura e até desconfiava do termômetro, pois queria adoecer tanto quanto os personagens do livro”, conta. Durante a leitura, Zambra fazia uma única pausa, para preparar o que chamava de “talharim eterno”, que comia na cama, sempre com o livro aberto. “Por isso”, diz, “meu exemplar d’A montanha mágica tem marcas de molho de tomate.”
No mês passado, em Buenos Aires, li os Diarios, de Alejandra Pizarnik, num café chamado Rivas, em San Telmo. Em 2005, numa outra viagem à capital argentina, li o Diario argentino, de Witold Gombrowicz, no hostel infecto onde estava hospedado, na Calle Bartolomé Mitre, perto do Congresso. Esses diários foram escritos praticamente na mesma época, entre 1954-71 (Pizarnik) e 1953-69 (Gombrowicz), e ambos marcam uma mudança de sensibilidade. O diário, antes algo que se mantinha, até segunda ordem, restrito à dimensão do privado, passa a ser concebido para publicação.
Ou seja: enquanto Kafka relatava para si, e somente para si, suas noites de raios e trovões, Gombrowicz sabia que seu diário seria lido, escrevia para isso. A espontaneidade passa a ser um efeito, fruto de operações, procedimentos. A partir do autor polonês, o diário — ou a correspondência (basta ver Querida família, as cartas que Manuel Puig enviou da Europa a seus pais, entre 1956 e 62) — se torna um gênero, artificial, construído minuciosamente pelo autor, não raro ele também leitor de diários.
E não se trata mais de algo secundário, periférico, cujo interesse vai ser despertado a posteriori, o diário como parte do espólio do autor etc. Gombrowicz vai publicando trechos do seu diário em vida, antes mesmo de ter uma obra consolidada — seu diário é, na verdade, fruto de sua colaboração com uma revista mensal dos imigrantes polacos em Paris, Kultura. Em 1957, sai o primeiro tomo do diário, em livro, com escritos de 1953-56. Nessa época, Gombrowicz ainda não havia publicado alguns de seus principais romances, como Pornografia e Cosmos. E é conhecida a apreciação de Ricardo Piglia que diz ser o diário a principal obra de Gombrowicz.
O autor polonês advertia que um escritor tinha que demonstrar engenho em todos os níveis da escrita: isto é, deveria se expressar não só num poema ou num drama, mas também na prosa vulgar, num artigo ou no diário. A ideia ecoa uma outra, de Walter Benjamin, que no início de Rua de mão única afirma que o “exercício da inteligência” já não podia se dar apenas “dentro de molduras” tradicionais e devia cultivar as formas modestas, como “folhas volantes, brochuras, artigos de jornal e cartazes”, mais pertinentes e efetivas que “o pretensioso gesto universal do livro”. Na introdução ao Diario argentino, como que para apaziguar os ânimos de críticos que se perguntavam “mas quem diabos vai se interessar por isso, onde estão a política e os temas gerais?”, Gombrowicz escreve: “meu diário quer ser o contrário da literatura comprometida, quer ser literatura privada; me parece que esse tipo de literatura é necessária agora, seria extremamente chato se todos repetissem sempre o mesmo, numa mesma voz”.
Pizarnik também antecipou diversos fragmentos do seu diário em revistas e jornais, e corrigiu-o e reescreveu-o incessantemente. “Para ela, trabalhar no diário era tão importante quanto trabalhar em seus poemas”, diz Ana Becciu, organizadora do diário da escritora. “Desde jovem, Pizarnik foi voraz leitora de diários, especialmente os de Katherine Mansfield, Virginia Woolf e Kafka.” A versão espanhola do diário de Kafka, escrito entre 1910-23, foi publicada na Argentina em 1953. O exemplar de Pizarnik leva escrito na primeira página o ano em que ela o adquiriu: 1955. “Está largamente sublinhado, e anotado de cabo a rabo. Era seu livro de cabeceira”, fala.
Dá para dizer que Gombrowicz e Pizarnik são os avós dos blogs pessoais — que, aliás, já morreram também. Em alguns pontos, Gombrowicz problematiza a questão da encenação pública do eu nas próprias páginas do diário: “Escrevo esse diário sem vontade. Sua insinceridade sincera me cansa. Para quem escrevo? Se é para mim mesmo, por que o publico? Se é para o leitor, por que falo como se falasse comigo mesmo?”. Mas os melhores momentos do livro, aqueles em que o polonês mais brilha como narrador, são episódios simples, nada metalinguísticos (metalinguagem que, hoje, soa um pouco datada), como quando vai ao campo e não para de suar, ou quando secretamente escreve na parede do banheiro de um bar da Calle Callao.
São trechos pouco “literários”. E que fazem pensar que tanto Gombrowicz quanto Pizarnik conseguiram colocar em jogo uma espécie de estilo da necessidade, tão próprio dos diários e das cartas, um estilo vivo, que parece estar num degrau anterior à literatura com L maiúsculo. Tem a ver com isso o que o personagem de Borges e Bioy diz sobre um crítico/jornalista em Seis problemas para Dom Isidro Parodi: “Li os artiguinhos do Molinari. O rapaz é habilidoso com a pena, mas tanta literatura e tanto retrato acabam enjoando. Por que não me conta as coisas do seu jeito, sem nenhuma arte? Eu gosto que me falem claramente”. Depois de ler os diários, a impressão é que uma boa maneira de se converter em escritor é essa: não querer ser escritor. Contar as coisas sem “arte”; falar claramente (mas para isso, claro, é preciso um tanto de arte). E que talvez o lugar e as circunstâncias em que lemos um livro (a intimidade) possam guardar os segredos daquela literatura mais viva, urgente e real — Cortázar na praia; Thomas Mann sujo de molho de tomate na cama.
.