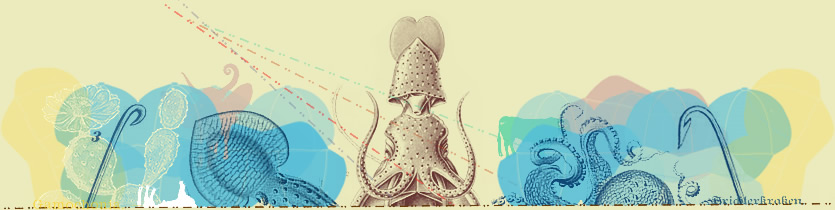.
Texto novo para o blog da Companhia das Letras:
.
Na literatura (e na vida, e nas redes sociais, que cada vez mais se embaralham), há narradores cuja principal característica é DAR A REAL sobre o mundo. Os de Thomas Bernhard, por exemplo.
Como se fossem cromos autocolantes do desprezo e da maledicência, é possível colecionar as passagens, de um mau humor cáustico (e cômico), em que os narradores de Bernhard esmagam e pisoteiam a Áustria, a Suíça & tudo que se move por ali, onde o “ar é irrespirável” e “as pessoas insuportáveis”. Para eles, Salzburgo é uma “estúpida cidadezinha provinciana, cheia de idiotas, onde com o tempo tudo se reduz à estupidez, sem exceção”. De Viena a Linz, a viagem é uma verdadeira “jornada pelo mau gosto”. E em Chur, basta dormir uma única noite para que “um homem se arruíne para toda a vida”. Isso sem falar nas apreciações sobre o ambiente artístico desses lugares. Diante de narradores tão simpáticos, podemos fazer aquela perguntinha assaz estimada pela sensibilidade do nosso tempo: o que há de Thomas Bernhard nestes narradores? É isso que o autor pensa de fato?
Conhecendo os relatos “não-ficcionais” de Bernhard (como o magnífico Origem), a resposta dele seria algo como: “sim, no geral penso exatamente como o narrador de O náufrago, abs”. O que, no fundo, claro, não faz diferença. Porque sendo as mesmas de seu autor ou não, as opiniões e vozes de personagens e narradores de um romance estão contidas na visão de mundo do autor. Assim, a complexidade moral de um romance é diretamente proporcional à complexidade moral de seu autor, cuja visão de mundo está difusa, sempre, por toda a obra (e uma visão de mundo pode ser cheia de nuances — caso de Bernhard, cujo narrador-assertivo-que-dá-a-real faz parte, em seu exagero e intransigência, de um complexo maquinário narrativo — ou estreita, maniqueísta, baseada num episódio dos Ursinhos Carinhosos, que protegem a Terra do mal e do temido vilão Coração Gelado, que tenta a todo custo acabar com o amor no planeta — nada contra o desenho dos ursos, que entendo, admiro e respeito).
Em textos que jogam declaradamente com a ideia de autoficção, esse movimento de DAR A REAL ganha especificidades. Um exemplo interessante é o de Diário de um ano ruim, de J. M. Coetzee. De forma esquemática, e pelo efeito dramático da frase, dá para dizer que neste romance Coetzee se propõe a dar a real sobre o narrador que dá a real. Na forma de uma impressionante reflexão sobre as “opiniões fortes” do personagem-assertivo-que-dá-a-real, Coetzee põe em perspectiva todo discurso panfletário e “combativo”, marcado por um “tom de sabe-tudo”, de alguém que tem “todas as respostas” e diz “é assim que é”.
O crítico Adriano Schwartz faz uma análise precisa do referido romance neste ótimo texto sobre certa “tendência autobiográfica no romance contemporâneo”. Diário de um ano ruim, cuja primeira parte chama-se, justamente, “Opiniões Fortes”, é a história de J.C., um escritor velho e cansado que passa a duvidar do impacto, da autoridade e da relevância da ficção no mundo contemporâneo — “não tenho mais paciência para escrever um romance”, diz. A convite de um editor alemão, passa então a redigir opiniões sobre os mais diversos assuntos (“quanto mais controverso melhor”). É nesse contexto que conhece a belíssima Anya, uma jovem filipina de vinte e nove anos, a quem propõe um trabalho: ajudá-lo a passar para o papel esses textos, essas opiniões. Ele dita, ela datilografa. As “opiniões fortes” de J.C. versam sobre tudo: Guantánamo, design inteligente, o apartheid, direitos dos animais etc. Muitas delas são ideias defendidas ou debatidas pelo próprio Coetzee, de quem o personagem fictício toma emprestado parte das iniciais, bem como uma série de outros dados biográficos (ambos escreveram um romance chamado À espera dos bárbaros, ambos possuem um volume de ensaios sobre a censura, ambos são sul-africanos radicados na Austrália).
Há, portanto, um jogo duplo. Coetzee faz uso de elementos não-ficcionais para escrever um romance que problematiza justamente a descrença na ficção — é a autoficção debruçando-se sobre si mesma. Num primeiro momento, o que Coetzee parece dizer é: num contexto em que “verdade” e “autenticidade” carregam um valor em si mesmo, a enunciação de afirmações reais e definitivas toca o leitor com muito mais eficácia. Para que então submeter o leitor aos artifícios do romance?
Só que Coetzee, através da jovem Anya, vai colocar isso tudo em questão. Para ela, as “opiniões fortes” do velho escritor não passam de textos chatos que causam bocejos e tédio profundo. Além disso, aponta Schwartz, esse “dar a real” é um grito que busca silenciar todo o resto. O que se assemelha à retórica política — e “política é berrar para calar a boca dos outros e conseguir o que você quer”, diz Anya.
No início, J.C. não concorda, os dois discutem, ela chega a dizer que não vai mais datilografar as tais opiniões. Mas, aos poucos, o romance avança, e a jovem filipina vai conseguindo modificar o velho homem. Então, em determinado ponto, numa demonstração plena do alcance da sensibilidade de Coetzee, J.C. comenta: “o que começou a mudar desde que eu entrei na órbita de Anya não são tanto as minhas opiniões em si, mas minha opinião sobre as minhas opiniões”.
O ponto de partida de J.C. não está errado: para a nossa sensibilidade (criada à base de reality shows, imagens amadoras captadas por celular, redes sociais etc.), a autoficção parece mesmo levar vantagem em comparação ao romance. Nela, há um pacto com o leitor: a matéria-prima do relato são experiências “reais”, “vividas”. E, hoje, quando sabemos que estamos diante de uma narrativa “baseada em fatos reais”, nossa atenção parece ser capturada com mais facilidade. Mesmo que o texto de um romance e de uma autoficção sejam absolutamente os mesmos, a disposição do leitor será distinta em cada uma das experiências.
Todavia, para além deste proveito (maior autoridade do narrador), decidir embaralhar verdade e ficção, e apresentar uma narrativa como autoficcional, tem suas implicações. Ou, pelo menos, deveria ter; senão, de outra forma, bastaria escrever um romance tradicional.
No caso de Coetzee, um parâmetro ético de toda prosa que se pretende autoficção parece ser estabelecido: colocar em xeque as convicções de seu protagonista. A autoficção seria o lugar de pensar contra si mesmo. Não há espaço para autopiedade. Não há heroísmo. A autodilaceração não é feita com a faquinha do bolo Pullman. O que existe é tentar diagnosticar as próprias limitações, analisá-las mesmo que a contragosto; deixar que nossas certezas sejam ameaçadas.
Seja colocando em perspectiva as “opiniões fortes” de J.C. em Diário de um ano ruim, seja no dilacerante autoescrutínio que realiza o narrador frio e distante da “trilogia autobiográfica” Infância, Juventude e Verão, os personagens de Coetzee se expõem verdadeiramente. E há uma diferença cabal que deve ser notada aqui. Se alguém nos pergunta “qual o seu principal defeito?”, pode-se responder, de maneira hipócrita: “a sinceridade, sou muito sincero, sabe?”. No caso dos protagonistas da autoficção de Coetzee, a resposta nunca vai ser menos do que: sou um “mosca-morta”, um “tapado distante da realidade”, um homem “sem presença sexual nenhuma”. Além disso, há outro ponto a ser considerado: o da autoridade e complexidade de quem enuncia essas apreciações.
Em Verão, o escritor John Coetzee já está morto quando um biógrafo inglês decide escrever um livro sobre ele. Sem ter conhecido pessoalmente o biografado, o pesquisador consulta cadernos de anotações e decide falar com algumas fontes. Uma delas é Julia, vizinha de John Coetzee na Cidade do Cabo, com quem o escritor-personagem teve um caso. Coetzee, autor, constrói Julia de maneira complexa. O que significa dizer: alguém nem totalmente bom, nem totalmente ruim; nem esplêndido, nem convencional etc. Sentimos empatia por John, mas também sentimos por Julia. Dessa forma, se as opiniões de Julia sobre ele não são verdades absolutas (é um ponto de vista, afinal), estão longe de serem absurdas. Ao submeter John Coetzee a um exame desse tipo, o relato de Coetzee ganha força e se afasta de qualquer hipocrisia.
Em determinado momento da entrevista, por exemplo, Julia conta sobre a noite em que Coetzee chegou à sua casa com um pequeno toca-fitas e um K7, um quinteto para cordas de Schubert. “Não era o que se pudesse chamar de música sexy, nem eu estava muito no clima”, diz Julia, “mas ele queria fazer amor e, especificamente — perdoe se sou explícita —, queria que a gente coordenasse nossas atividades com a música, com o movimento lento. [...] Não sei se lembra do movimento lento, mas tem uma longa ária de violino com a viola pulsando por baixo, e dava para sentir John tentando manter o mesmo ritmo. A coisa toda me parecia forçada, ridícula. [...] ‘Esvazie a mente!’, ele sussurrou para mim. ‘Sinta através da música!’ Bom, não tem nada mais irritante do que dizerem o que você tem que sentir. Eu me afastei dele e esse pequeno experimento erótico desmoronou na hora. [...] Eu nunca contei isso para ninguém antes do senhor. Por que não? Porque achei que ia lançar uma luz muito ridícula sobre John. Quem, senão um pateta total, mandaria a mulher por quem deveria estar apaixonado tomar lições de sexo com um compositor morto? [...] Não dá para saber se é para rir ou chorar!”
Ao final do relato de Julia, o biógrafo-entrevistador comenta: “A senhora está sendo um pouco dura com ele, se me permite dizer”. Ao que Julia responde, fechando o capítulo: “Não, não estou. Só estou dizendo a verdade. Sem a verdade, por mais dura que seja, não pode haver cura.” Coetzee parece, assim, conferir à autoficção aquela que poderia ser sua norma de arte e ética: dar a real, sim, mas sobre si mesmo.
.
Texto novo para o blog da Companhia das Letras:
.
Na literatura (e na vida, e nas redes sociais, que cada vez mais se embaralham), há narradores cuja principal característica é DAR A REAL sobre o mundo. Os de Thomas Bernhard, por exemplo.
Como se fossem cromos autocolantes do desprezo e da maledicência, é possível colecionar as passagens, de um mau humor cáustico (e cômico), em que os narradores de Bernhard esmagam e pisoteiam a Áustria, a Suíça & tudo que se move por ali, onde o “ar é irrespirável” e “as pessoas insuportáveis”. Para eles, Salzburgo é uma “estúpida cidadezinha provinciana, cheia de idiotas, onde com o tempo tudo se reduz à estupidez, sem exceção”. De Viena a Linz, a viagem é uma verdadeira “jornada pelo mau gosto”. E em Chur, basta dormir uma única noite para que “um homem se arruíne para toda a vida”. Isso sem falar nas apreciações sobre o ambiente artístico desses lugares. Diante de narradores tão simpáticos, podemos fazer aquela perguntinha assaz estimada pela sensibilidade do nosso tempo: o que há de Thomas Bernhard nestes narradores? É isso que o autor pensa de fato?
Conhecendo os relatos “não-ficcionais” de Bernhard (como o magnífico Origem), a resposta dele seria algo como: “sim, no geral penso exatamente como o narrador de O náufrago, abs”. O que, no fundo, claro, não faz diferença. Porque sendo as mesmas de seu autor ou não, as opiniões e vozes de personagens e narradores de um romance estão contidas na visão de mundo do autor. Assim, a complexidade moral de um romance é diretamente proporcional à complexidade moral de seu autor, cuja visão de mundo está difusa, sempre, por toda a obra (e uma visão de mundo pode ser cheia de nuances — caso de Bernhard, cujo narrador-assertivo-que-dá-a-real faz parte, em seu exagero e intransigência, de um complexo maquinário narrativo — ou estreita, maniqueísta, baseada num episódio dos Ursinhos Carinhosos, que protegem a Terra do mal e do temido vilão Coração Gelado, que tenta a todo custo acabar com o amor no planeta — nada contra o desenho dos ursos, que entendo, admiro e respeito).
Em textos que jogam declaradamente com a ideia de autoficção, esse movimento de DAR A REAL ganha especificidades. Um exemplo interessante é o de Diário de um ano ruim, de J. M. Coetzee. De forma esquemática, e pelo efeito dramático da frase, dá para dizer que neste romance Coetzee se propõe a dar a real sobre o narrador que dá a real. Na forma de uma impressionante reflexão sobre as “opiniões fortes” do personagem-assertivo-que-dá-a-real, Coetzee põe em perspectiva todo discurso panfletário e “combativo”, marcado por um “tom de sabe-tudo”, de alguém que tem “todas as respostas” e diz “é assim que é”.
O crítico Adriano Schwartz faz uma análise precisa do referido romance neste ótimo texto sobre certa “tendência autobiográfica no romance contemporâneo”. Diário de um ano ruim, cuja primeira parte chama-se, justamente, “Opiniões Fortes”, é a história de J.C., um escritor velho e cansado que passa a duvidar do impacto, da autoridade e da relevância da ficção no mundo contemporâneo — “não tenho mais paciência para escrever um romance”, diz. A convite de um editor alemão, passa então a redigir opiniões sobre os mais diversos assuntos (“quanto mais controverso melhor”). É nesse contexto que conhece a belíssima Anya, uma jovem filipina de vinte e nove anos, a quem propõe um trabalho: ajudá-lo a passar para o papel esses textos, essas opiniões. Ele dita, ela datilografa. As “opiniões fortes” de J.C. versam sobre tudo: Guantánamo, design inteligente, o apartheid, direitos dos animais etc. Muitas delas são ideias defendidas ou debatidas pelo próprio Coetzee, de quem o personagem fictício toma emprestado parte das iniciais, bem como uma série de outros dados biográficos (ambos escreveram um romance chamado À espera dos bárbaros, ambos possuem um volume de ensaios sobre a censura, ambos são sul-africanos radicados na Austrália).
Há, portanto, um jogo duplo. Coetzee faz uso de elementos não-ficcionais para escrever um romance que problematiza justamente a descrença na ficção — é a autoficção debruçando-se sobre si mesma. Num primeiro momento, o que Coetzee parece dizer é: num contexto em que “verdade” e “autenticidade” carregam um valor em si mesmo, a enunciação de afirmações reais e definitivas toca o leitor com muito mais eficácia. Para que então submeter o leitor aos artifícios do romance?
Só que Coetzee, através da jovem Anya, vai colocar isso tudo em questão. Para ela, as “opiniões fortes” do velho escritor não passam de textos chatos que causam bocejos e tédio profundo. Além disso, aponta Schwartz, esse “dar a real” é um grito que busca silenciar todo o resto. O que se assemelha à retórica política — e “política é berrar para calar a boca dos outros e conseguir o que você quer”, diz Anya.
No início, J.C. não concorda, os dois discutem, ela chega a dizer que não vai mais datilografar as tais opiniões. Mas, aos poucos, o romance avança, e a jovem filipina vai conseguindo modificar o velho homem. Então, em determinado ponto, numa demonstração plena do alcance da sensibilidade de Coetzee, J.C. comenta: “o que começou a mudar desde que eu entrei na órbita de Anya não são tanto as minhas opiniões em si, mas minha opinião sobre as minhas opiniões”.
O ponto de partida de J.C. não está errado: para a nossa sensibilidade (criada à base de reality shows, imagens amadoras captadas por celular, redes sociais etc.), a autoficção parece mesmo levar vantagem em comparação ao romance. Nela, há um pacto com o leitor: a matéria-prima do relato são experiências “reais”, “vividas”. E, hoje, quando sabemos que estamos diante de uma narrativa “baseada em fatos reais”, nossa atenção parece ser capturada com mais facilidade. Mesmo que o texto de um romance e de uma autoficção sejam absolutamente os mesmos, a disposição do leitor será distinta em cada uma das experiências.
Todavia, para além deste proveito (maior autoridade do narrador), decidir embaralhar verdade e ficção, e apresentar uma narrativa como autoficcional, tem suas implicações. Ou, pelo menos, deveria ter; senão, de outra forma, bastaria escrever um romance tradicional.
No caso de Coetzee, um parâmetro ético de toda prosa que se pretende autoficção parece ser estabelecido: colocar em xeque as convicções de seu protagonista. A autoficção seria o lugar de pensar contra si mesmo. Não há espaço para autopiedade. Não há heroísmo. A autodilaceração não é feita com a faquinha do bolo Pullman. O que existe é tentar diagnosticar as próprias limitações, analisá-las mesmo que a contragosto; deixar que nossas certezas sejam ameaçadas.
Seja colocando em perspectiva as “opiniões fortes” de J.C. em Diário de um ano ruim, seja no dilacerante autoescrutínio que realiza o narrador frio e distante da “trilogia autobiográfica” Infância, Juventude e Verão, os personagens de Coetzee se expõem verdadeiramente. E há uma diferença cabal que deve ser notada aqui. Se alguém nos pergunta “qual o seu principal defeito?”, pode-se responder, de maneira hipócrita: “a sinceridade, sou muito sincero, sabe?”. No caso dos protagonistas da autoficção de Coetzee, a resposta nunca vai ser menos do que: sou um “mosca-morta”, um “tapado distante da realidade”, um homem “sem presença sexual nenhuma”. Além disso, há outro ponto a ser considerado: o da autoridade e complexidade de quem enuncia essas apreciações.
Em Verão, o escritor John Coetzee já está morto quando um biógrafo inglês decide escrever um livro sobre ele. Sem ter conhecido pessoalmente o biografado, o pesquisador consulta cadernos de anotações e decide falar com algumas fontes. Uma delas é Julia, vizinha de John Coetzee na Cidade do Cabo, com quem o escritor-personagem teve um caso. Coetzee, autor, constrói Julia de maneira complexa. O que significa dizer: alguém nem totalmente bom, nem totalmente ruim; nem esplêndido, nem convencional etc. Sentimos empatia por John, mas também sentimos por Julia. Dessa forma, se as opiniões de Julia sobre ele não são verdades absolutas (é um ponto de vista, afinal), estão longe de serem absurdas. Ao submeter John Coetzee a um exame desse tipo, o relato de Coetzee ganha força e se afasta de qualquer hipocrisia.
Em determinado momento da entrevista, por exemplo, Julia conta sobre a noite em que Coetzee chegou à sua casa com um pequeno toca-fitas e um K7, um quinteto para cordas de Schubert. “Não era o que se pudesse chamar de música sexy, nem eu estava muito no clima”, diz Julia, “mas ele queria fazer amor e, especificamente — perdoe se sou explícita —, queria que a gente coordenasse nossas atividades com a música, com o movimento lento. [...] Não sei se lembra do movimento lento, mas tem uma longa ária de violino com a viola pulsando por baixo, e dava para sentir John tentando manter o mesmo ritmo. A coisa toda me parecia forçada, ridícula. [...] ‘Esvazie a mente!’, ele sussurrou para mim. ‘Sinta através da música!’ Bom, não tem nada mais irritante do que dizerem o que você tem que sentir. Eu me afastei dele e esse pequeno experimento erótico desmoronou na hora. [...] Eu nunca contei isso para ninguém antes do senhor. Por que não? Porque achei que ia lançar uma luz muito ridícula sobre John. Quem, senão um pateta total, mandaria a mulher por quem deveria estar apaixonado tomar lições de sexo com um compositor morto? [...] Não dá para saber se é para rir ou chorar!”
Ao final do relato de Julia, o biógrafo-entrevistador comenta: “A senhora está sendo um pouco dura com ele, se me permite dizer”. Ao que Julia responde, fechando o capítulo: “Não, não estou. Só estou dizendo a verdade. Sem a verdade, por mais dura que seja, não pode haver cura.” Coetzee parece, assim, conferir à autoficção aquela que poderia ser sua norma de arte e ética: dar a real, sim, mas sobre si mesmo.
.